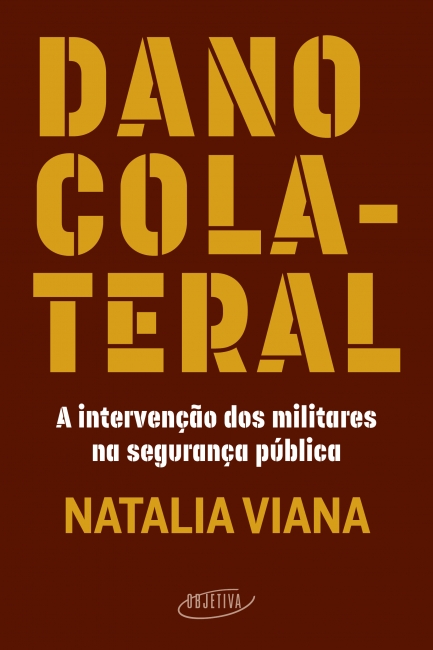Da newsletter semanal de Marina Amaral, diretora executiva da Agência Pública
Natália Viana
Gente mais gabaritada (e menos suspeita) do que eu já comemorou o lançamento de “Dano Colateral”, o livro de minha querida parceira de fundação da Agência Pública, a jornalista Natalia Viana. Elio Gaspari, Pedro Abramovay, Bruno Paes Manso, Renata Lo Prete, que entrevistou Natalia no podcast “O Assunto” – é longa a lista dos que destacaram a relevância da investigação da jornalista para compreender como o Exército voltou a ter poder político no país.
Do papel de “grande mudo”, a que estava relegado desde sua participação na posse de Sarney, à presença maciça de militares no governo Bolsonaro, com a ocupação de cargos-chave da Defesa à Saúde, a jornalista descreve os movimentos que os levaram ao papel de fiadores do impeachment de Dilma, a inimiga figadal, e do governo impopular de Michel Temer, preparando o salto definitivo para o poder com a eleição de Jair Bolsonaro.
Do ponto de vista jornalístico, o mais interessante, porém, é que não foram offs palacianos nem segredos de caserna que levaram Natalia a esclarecer esse ponto nevrálgico de nossa história.
Para além de uma alentada entrevista com o general Etchegoyen, que desempenhou papel crucial em todo esse processo, foi o acompanhamento minucioso de casos de vítimas das operações GLO, inclusive na Justiça Militar, que a conduziu à descoberta de como o Exército, fortalecido pelos governos do PT, em especial com as missões da ONU no Haiti e com o comando da segurança dos megaeventos no governo Dilma, aproveitou-se da brecha, representada pelo artigo 142 da Constituição, para voltar a opinar – ou mesmo decidir – sobre as questões nacionais.
Em dois anos de investigação, inclusive com um especial sobre o tema publicado na Agência Pública, Natalia contou 35 vítimas, sobretudo nas favelas do Rio de Janeiro, entre 2011 – quando ironicamente a ex-presidente “abraçou a política de GLOs”, iniciada ainda no último ano do governo Lula com a ocupação do Complexo do Alemão – e 2019, período em que as operações GLO chegaram ao auge com o governo Temer incluindo a intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Rio em 2018 (a primeira e única da redemocratização). Não por acaso comandada pelo general Braga Netto, que hoje é homem forte do governo Bolsonaro. Natalia mostra como os julgamentos pateticamente injustos dos responsáveis pelas mortes foram acompanhados de mudanças de legislação para proteger os militares, a começar pela primeira delas, no governo Temer, quando também os homicídios dolosos voltaram a ser de competência da Justiça Militar.
A última operação enfocada é a Muquiço, na Vila Militar, quando o carro da família do músico Evaldo Rosa foi alvejado com 62 dos mais de 80 tiros de fuzil disparados por uma patrulha do Exército, matando Evaldo, de 46 anos, e o catador Luciano Macedo, de 27 anos, quando ele se aproximou para tentar ajudar o músico.
Para além de provar que a violenta operação, que provocou escândalo, já no governo Bolsonaro, era ilegal de origem, foi esse o caso que despertou Natalia a ir além das reportagens, como ela revela no prólogo:
“Não foi a comoção passageira em torno do fuzilamento que me levou a escrever este livro. O que me moveu foi ter lido e ouvido tantas vezes a respeito do sol forte que castigava Luciano Macedo, depois de baleado pelos soldados. Enquanto sua esposa implorava por socorro, Luciano agonizou sob o sol carioca por ter tentado salvar a vida de outro brasileiro, negro como ele, que nem sequer conhecia.
‘Me tira do sol’ foram algumas das últimas palavras desse catador de recicláveis que morreu como herói”.
É olhando para as vítimas que se descobre o que tramam os poderosos. É ouvindo o coração que uma repórter conta uma grande história. Um grande viva aos jornalistas da estirpe de Natalia Viana.